





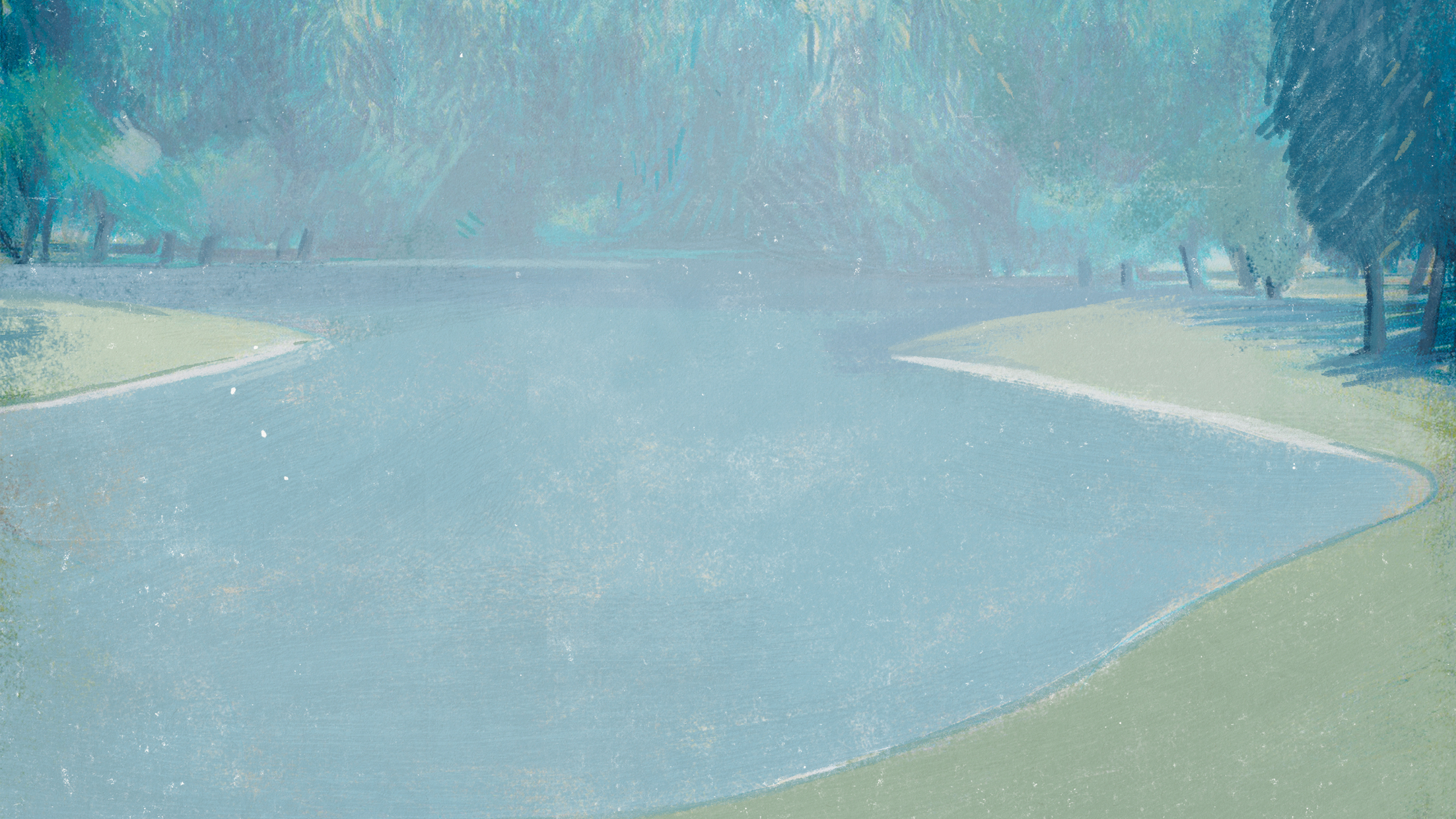
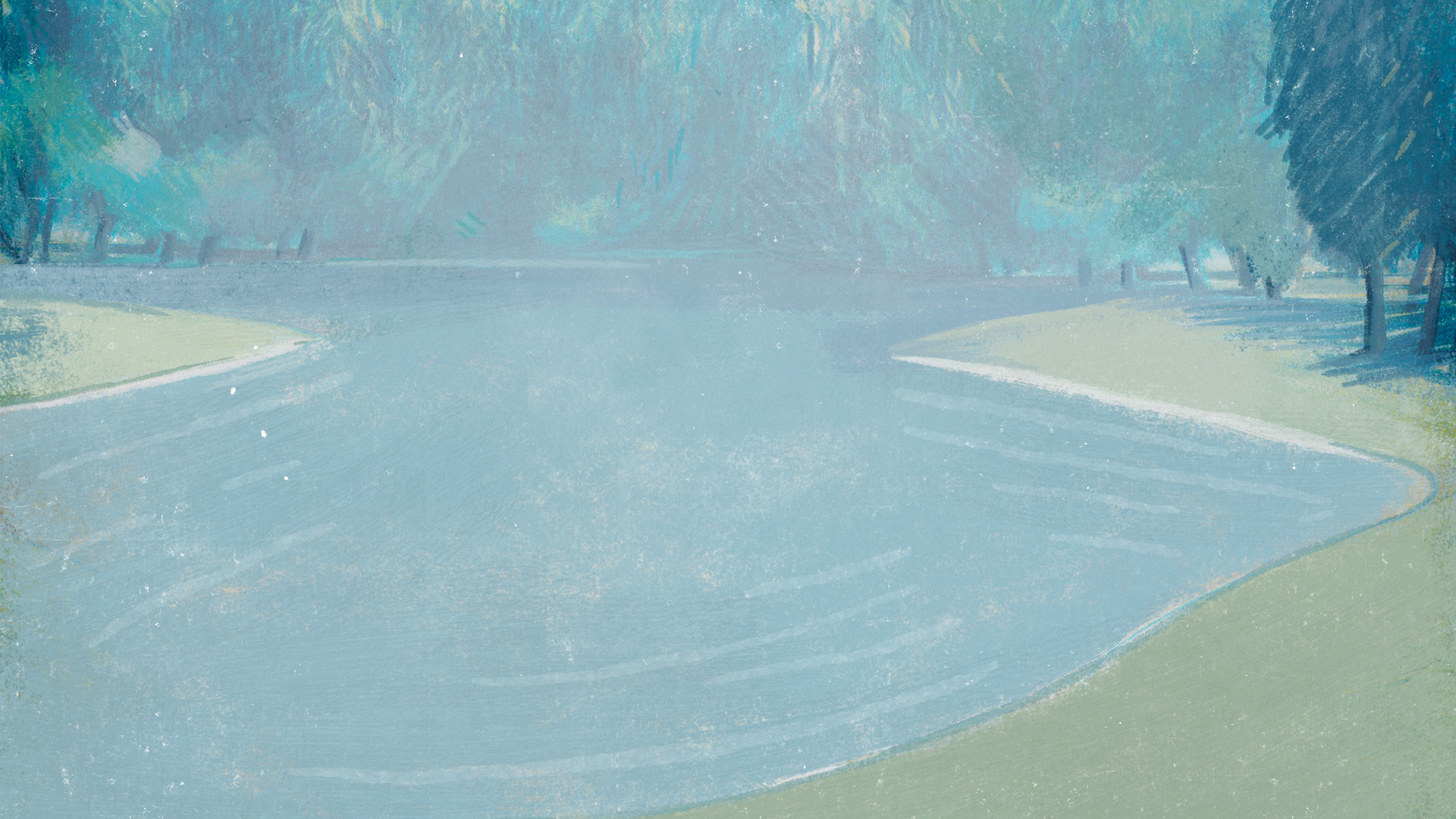

Tenho receio do que as pessoas me diriam se soubessem. Que me magoem por uma coisa que não é culpa minha. Houve uma vez, quando fui às urgências com a minha filha – ela esteve internada por causa de uma bactéria na urina, tinha 1 mês –, que não esqueço. A médica perguntou-me porque é que a minha filha tinha nascido naquele hospital se nós vivíamos noutro lado. Disse-lhe que eu era seguida ali porque tinha VIH congénito, transmitido de pais para filhos, e ela olhou para mim com um ar de nojo. Senti que me estava a julgar por uma coisa de que eu não tenho culpa, que eu não escolhi. Não entendo a discriminação, muito menos da parte de médicos e por isso ninguém sabe. Só assim me sinto segura e protegida.
Tenho 29 anos, nasci em 1992. A minha mãe nunca me disse exatamente o que aconteceu. Segundo o que sei, o meu pai ter-se-á infetado com uma seringa [era toxicodependente] e ela apanhou através dele. Mas não sabia que estava infetada quando engravidou de mim. O sonho do meu pai sempre foi ter uma menina, mas pouco tempo depois de eu nascer – tinha dois anos –, ele morreu. Além do vírus, tinha cirrose. Foram os médicos e os enfermeiros, principalmente na Pediatra que hoje também seguem a minha filha, que me explicaram tudo. A minha mãe nunca gostou de falar sobre o assunto. Eu percebo: também não gostaria que a minha filha nascesse infetada e fiz de tudo para que não acontecesse. Mas a minha mãe não sabia, ela culpa-se por uma coisa que não é culpa dela.
Até aos 4 anos, as minhas memórias são todas do hospital. Passei muito tempo internada. Por causa do vírus apanhei outras coisas, não tinha grandes defesas. À medida que ia crescendo, tinha a noção de que não era normal viver praticamente no hospital. Começaram por me explicar que eu tinha um bicho ruim que estava a tomar conta do meu corpo e que tinha de estar ali para que passasse. Aquilo era tão natural para mim que quando as enfermeiras me vinham picar – e ainda hoje é assim –, não tinha problema nenhum com as agulhas. Depois desses primeiros quatro anos, as coisas estabilizaram. Só estive um ano no infantário antes de entrar para a escola. Ia fazendo uma vida mais ou menos normal, só que tinha várias consultas para controlar as defesas e o vírus. Ia ao hospital de três em três semanas, ou uma vez por mês, consoante as análises. Naquela altura, ter o vírus não era nada de especial, estava tudo bem. O próprio hospital fazia de tudo para nos integrar. Tínhamos festas de Natal, colónias de férias com miúdos com a mesma doença ou outras coisas mais graves.
O aborto que a chamou à razão
Quando entrei para o 5º ano, as coisas mudaram. Nenhuma pessoa normal tem tantas consultas como eu tinha. Comecei a revoltar-me e a descurar o tratamento. Tomava uns 12 ou 13 medicamentos por dia e não entendia porque tinha de fazer aquilo tudo. Condicionavam-me: por exemplo, se fosse dormir a casa de uma amiga tinha de levar os comprimidos comigo. Então, não os tomava e, depois, quando fazia análises, os médicos percebiam e ralhavam comigo. O vírus ficava detetável, as defesas em baixo e o meu corpo ressentia-se. Quando tinha aulas de ginástica, sentia-me mal e sabia porquê. Escondia da minha mãe, fazia de conta que tomava e não tomava nada. Estive vários anos revoltada e cheguei a ter consultas de Psicologia no hospital porque não entendia o porquê de me ter calhado a mim. Sabia que a minha mãe não tinha culpa e projetava a raiva no meu pai – que já nem estava cá para responder. Não me adiantava, só hoje tenho noção disso.
A minha mãe nunca me disse: “Não podes falar nisso, porque as pessoas podem julgar-te.” Nem ninguém no hospital. Acho que fui percebendo que tinha de me resguardar pelo que ouvia as pessoas dizerem, pelos comportamentos. Por exemplo, na opinião da minha sogra – ela não sabe que tenho VIH –, isto é uma doença que se pega através do toque ou de um beijo. O mundo é como ela, falam do que não sabem, porque o VIH não se transmite por um beijo. Por volta dos 17 anos, a pediatra teve uma conversa comigo e explicou-me realmente o que eu tinha e o que isto significava para a sociedade. Também me disse sempre que tinha de me proteger a mim, que o principal era eu, porque eu tinha aquela doença, mas podia apanhar outras. Por isso, quando faltava à escola para ir a uma consulta, e me perguntavam porquê, dizia apenas que tinha as defesas em baixo. Ainda hoje é a desculpa que dou. Foi havendo sempre alturas difíceis, em que acabei por não fazer as coisas como deve ser. Sempre quis ser mãe, desde cedo. Temia engravidar e que o meu filho nascesse com o vírus. Aos 18 anos engravidei mesmo e estraguei tudo. Estava numa fase em que não tomava a medicação de forma regular e tinha uma carga viral muito elevada. A equipa que me segue aconselhou-me a interromper a gravidez. Para mim, foi o pior que podia ter acontecido, era aquilo que eu queria tanto e fiz asneira. Mas havia o risco de o bebé nascer com problemas graves de saúde e tive de fazer o aborto. É um peso que carrego para a vida. É óbvio que se atenuou um bocadinho agora recentemente, quando a minha filha nasceu, mas é uma marca que não se apaga.
Sofri muito com o aborto, mas também me chamou à realidade. Só com o tempo e com a maturidade comecei a aceitar a doença que tenho. Quando passei a ser seguida na Infecciologia dos adultos, a coisa também já não era tão romantizada como na Pediatria. Penso, muitas vezes, que se tivesse levado logo com o choque da realidade mais cedo, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Demorei a abrir os olhos e acabei por aprender da pior forma. Desta vez, antes de engravidar, fiz tudo certinho. Estou com o meu marido desde os 16 anos, foi o meu primeiro namorado. Primeiro, construímos casa e só depois engravidei. Os médicos queriam que fosse por inseminação, para fazer a coisa da forma mais controlada possível. Mas, sinceramente, não liguei ao que disseram. No ano passado, em finais de junho, tive uma conversa com a minha infeciologista. Fiz análises e estava sem carga viral, fazia a medicação toda direitinha, estava a viver uma boa fase da minha vida, tinha emprego estável, portanto não via o porquê de não avançar com uma gravidez. Em agosto fomos de férias e eu fiz a minha filha.
Ter um bebé livre do vírus
Quando descobri que estava grávida, já em outubro, fiquei muito contente, mas, ao mesmo tempo, apavorada, porque não sabia como ia ser dali para a frente. Fiz o teste numa quinta-feira, o meu marido soube na sexta e a infeciologista foi a segunda pessoa a saber. Enviei-lhe mensagem com o teste de gravidez e disse-lhe: “Doutora, estou grávida, o que faço?” Ela respondeu: “Não te preocupes, vem logo que puderes à consulta para alterarmos a medicação.” Foi a única coisa que tive de fazer. A minha mãe só soube passados uns dias, depois de fazer uma ecografia para confirmar que estava tudo bem. Depois do que tinha passado, não quis arriscar. Ela nunca chegou a saber que eu fiz um aborto aos 18 anos.
A minha filha nasceu em abril de 2021. Comecei com contrações às 2h da manhã e aguentei até às 6h – a médica já me tinha dito que só quando apertasse é que era para ir para o hospital. Dei entrada às 7h10, fiz o teste Covid, entretanto levei a epidural e foi até às 20h30 à espera que ela nascesse. Costumo dizer que foi “o parto dos 10 minutos”. Depois de todas aquelas horas, foi muito rápido e fácil. Ela saiu, puseram-na no meu peito e esteve ali uns minutos. Depois, tiveram de a levar para tomar um banho e retirar os restos do meu sangue. Também fizeram logo uma análise e estava tudo bem: o vírus não detetável. Senti um grande alívio porque o meu maior medo era esse, que ela pudesse ter alguma coisa. Também foi a minha maior conquista. A única coisa de diferente é que não a posso amamentar, bebe leite adaptado desde o dia em que nasceu, mas foi uma coisa pacífica. A minha filha já está com 8 meses e eu continuo com ela em casa – trabalhava como empregada doméstica quando engravidei. Para já, vou usufruir dela enquanto der, não quero perder este período do seu crescimento.
Há um núcleo muito pequeno de pessoas que sabe que sou portadora de VIH. A minha mãe e o meu irmão, os meus tios maternos (são quatro), a minha avó e o meu marido – que nunca me discriminou. Os meus sogros, da minha parte, nunca irão saber. Aos amigos mais próximos também nunca contei. A madrinha da minha filha é uma das minhas melhores amigas, falamos todos os dias, esteve presente em tudo. Ela até é médica, mas não quero dizer-lhe. Acho que é uma coisa da minha privacidade, ninguém tem de saber. Claro que tenho medo das reações, tenho receio de como possa ser entendido. As pessoas não têm a noção do que isto é. Eu sei que ela é uma pessoa informada, mas, ao mesmo tempo, temo que mude alguma coisa na nossa relação. Esta foi a minha escolha desde muito nova, prefiro guardar para mim. No futuro, vou precisar de trabalho e não quero que as pessoas me discriminem por causa disto. Passaram quase 40 anos desde que o primeiro caso foi diagnosticado em Portugal, mas não vejo grandes mudanças de mentalidade, sinceramente. Por isso, prefiro resguardar-me na minha bolha. Ter nascido infetada com o vírus marcou a minha vida. Não determina o meu dia a dia – tomo só dois comprimidos por dia e vou à consulta uma vez por ano –, mas eu sei que está ali. É uma minicondição, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está no meu ADN e quando entro num hospital, ou em outra instituição de saúde, isso determina a minha passagem ali.